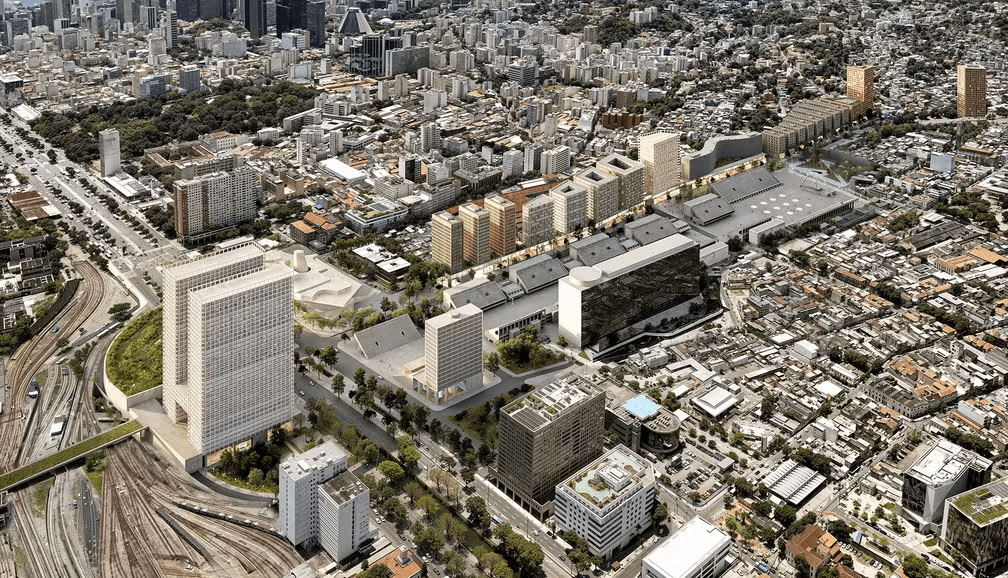Quando o comércio corre mais rápido do que a justiça territorial, quem tropeça primeiro é quem pisa no barro.
Estrada
A enchente levou a estradinha de terra batida. No dia seguinte, o atravessador apareceu com o caminhão-baú e um papel na mão. “Sem esse documento, você não vende.” E, como diria Ana Castela, “acreditei que era herói, mas é bandido”.
No dia 9 de janeiro de 2026, o Conselho da União Europeia autorizou a assinatura do acordo UE–Mercosul. Para quem não acompanha: é um acordo de livre comércio que pretende reduzir tarifas e ampliar cotas entre os blocos, mexendo com o que cada lado vende e compra, principalmente agro e indústria. Visto do alto, parece diplomacia com elementos interessantes. No chão, porém, é disputa: preço, rota, contrato, e a terra rural voltando a ser peça do tabuleiro do capital.
Fresta
No Brasil, quem corre o risco de receber esse vendaval pela fresta é um ente imenso e pouco fotografado: a agricultura familiar. O Censo Agro de 2017 aponta mais de 10 milhões de pessoas ocupadas nisso e cerca de 23% do valor da produção vindo daí. Isso não é detalhe, é estrutura social de país. É renda circulando em cidade pequena e média, feira, caminhãozinho, escola rural, estrada de terra. É território respirando baixo, enquanto o agronegócio faz show com telão.
A primeira tensão nasce rápido. Se essa janela comercial aumentar o apetite por commodities, a terra encarece, o arrendamento endurece, a fronteira produtiva ganha força. O pequeno produtor, sem colchão financeiro, sentirá como água entrando pela soleira. A desigualdade no campo não chega com anúncio. Chega como “o preço do hectare”, “o vizinho vendeu”, “o atravessador apertou”. Chega como chuva que enlouqueceu, enchente onde era seca e, às vezes, sorrateira como tocaia de jagunço.
O Brasil traz uma notícia ambígua. Houve redução do desmatamento divulgada pelo PRODES. Respiro diante das tentativas de passar a boiada. Mas a economia que empurra o desmatamento é rede, e rede muda de humor com o mercado. Tem grilagem, licença duvidosa, legalidade convivendo e negociando com ilegalidade. E governança que evapora quando a renda da terra chama.
A Europa tenta colocar freio na própria fome de importação. A regra antidesmatamento exige diligência e rastreabilidade: produto “desmatamento zero”, legal, rastreável até a área de produção. Só que a própria UE vem adiando e revisando prazos porque sabe o peso operacional disso tudo. Agora imagine essa exigência aterrissando na América do Sul, onde o Estado muitas vezes chega tarde, e o atravessador chega cedo.
ESG não enche o prato
E aqui aparece a segunda tensão, silenciosa e cruel. Como fazer justiça ambiental num país que nunca pagou a dívida da reforma agrária? Rastreabilidade é necessária, sim. Eu não romantizo cadeia produtiva submersa, desenhada em Brasília nos gabinetes do agro. O problema é o Brasil real. O grande ajusta a exploração por compliance, como quem vive passeando de ponte aérea. O pequeno paga seu labor como quem compra botijão no desespero, no fim do mês. E quando não consegue, some da cadeia formal: vira refém de intermediário, vende mais barato, trabalha mais para sobrar menos. Quando vira marketing, “verde” vira barreira de entrada. O selo verde brilha, mas o prato do povo continua vazio.
Daí o paradoxo: a floresta em pé aparece como narrativa, mas quem entra decisivo no mercado global é quem já tinha estrutura, advogado, crédito barato e uma geografia montada a seu favor. Leia-se: latifúndio, lastro e poder.
Uma imagem simples, quase como se Jane Jacobs tivesse crescido no interior do Maranhão. Um satélite olha a Amazônia enquanto um homem olha a própria cerca. O satélite mede quilômetros quadrados. O homem mede dias de chuva, preço do adubo, a dívida do mês. Quando a política internacional só enxerga o satélite, atropela a escala da vida. Quando só enxerga a cerca, fere a escala da Mãe Terra. Falta olhar de chão, de dentro do território, e talvez principalmente de quem não tem nem satélite nem cerca.
Aqui já não cabe o maniqueísmo de vitrine que virou a política eleitoreira. Livre comércio versus protecionismo. Ambientalismo versus produção. O problema é a velocidade voraz do capital sobre a terra. O comércio corre, a governança territorial anda, e o pequeno produtor tenta pegar um trem que já saiu, carregando documento, nota fiscal e a esperança básica de não passar fome.
Contrapartida
Se a gente quiser falar sério de Sul Global, sem romantizar pobreza e sem engolir propaganda de “modernização” que sempre chega junto do capital, o papo é reto: como impedir que esse acordo vire motor de concentração territorial? Como evitar que o campo pobre e a floresta voltem a ser zona de sacrifício, agora com etiqueta reciclável e selo ESG?
A resposta, a meu ver, não é instagramável. É infraestrutura pública. Rastreabilidade precisa ser serviço público, cooperativo e territorializado: cadastro georreferenciado acessível, assistência técnica forte, cooperativas, consórcios municipais, plataformas de governança simples que virem prática campesina, não burocracia. Se o mundo exige geolocalização e diligência, o Estado precisa entregar ferramentas ao povo para isso não virar exclusão.
E aqui entra o urbanismo, no sentido mais político da palavra. A cidade consome sem ver a origem, especula a terra e terceiriza o custo social do alimento. A gente pega a carne no freezer e não vê o sangue vertido. Se a agricultura familiar é base social, ela não pode virar refém do humor do mercado externo ou de chantagem logística. CEASAs, mercados municipais, cozinhas públicas, logística curta. PNAE e PAA como programa de país, não apenas de governo. Escola pública e hospital público como compradores regulares de cooperativas e agricultores familiares, com contrato estável e rota planejada são alguns caminhos.
O UE–Mercosul é uma operação territorial transcontinental: gera valor, especulação e espalha impacto. E uma operação territorial deste porte exige contrapartida política. Uma contrapartida concreta possível para o Sul é criarmos um programa público que priorize a agricultura familiar, articulado a uma política urbana de alimentação do povo pobre. Sem contrapartida realmente popular, o acordo corre o risco de virar atalho para a riqueza passar correndo na sua lógica de extração, enquanto o pobre do campo fica no acostamento, vendo a vida se desfazer no pó da estradinha de terra batida.