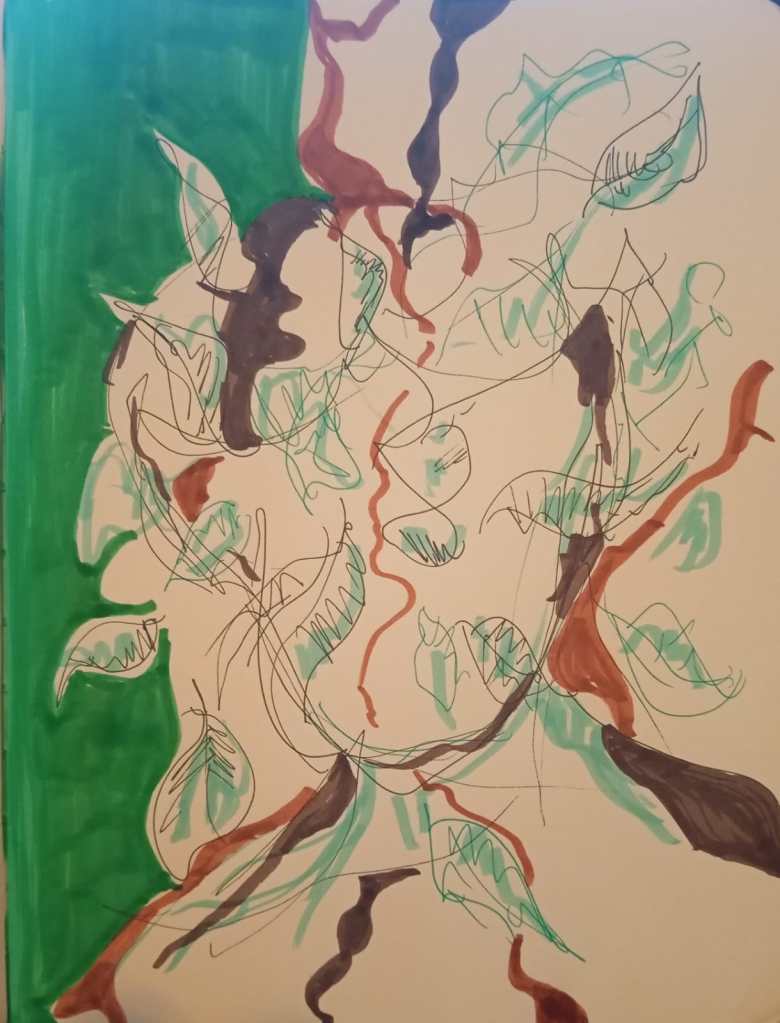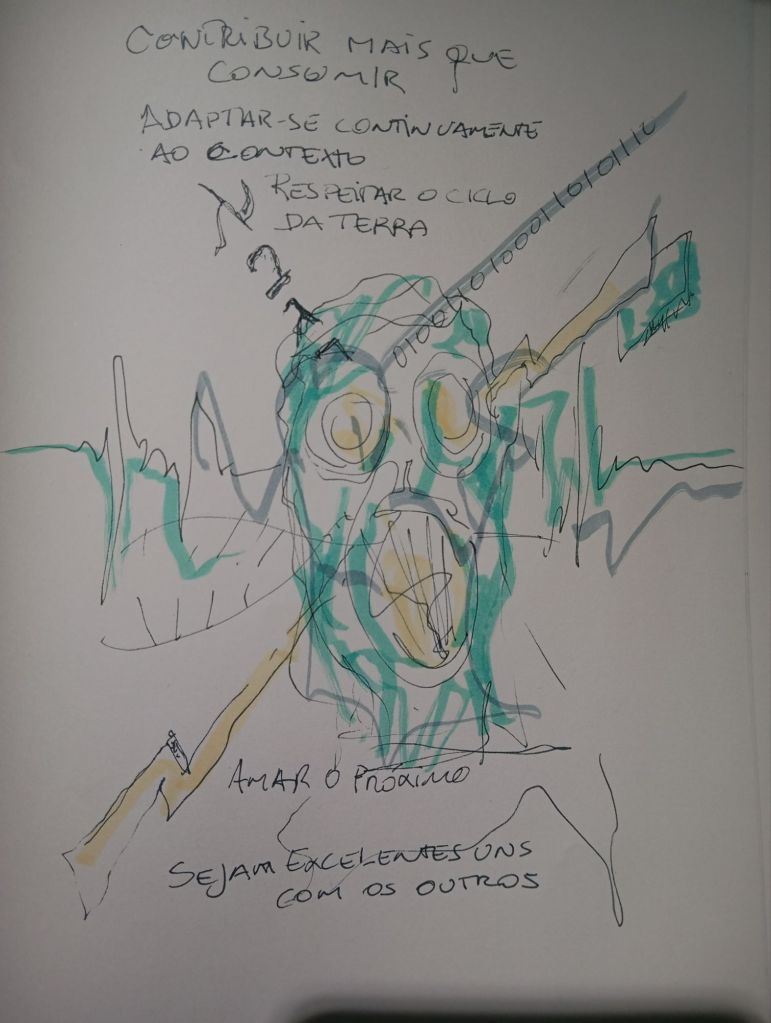Vivemos a intensidade de um novo mundo que se desenha entre tragédias. Este momento nos empurra para a borda de um novo modelo de vida, potencialmente transformador. Pela primeira vez, enfrentamos crises que atravessam a geografia desigual do planeta; o que antes parecia ficção, agora arrasta o coletivo.
A pandemia foi o primeiro grande alerta: um sinal de que as políticas públicas precisam superar fronteiras para alcançar essa nova esfera de interdependência. Em um passado recente, o pensamento progressista abandonou as disputas classistas e centrou-se na inclusão, na equidade, na justiça social, buscando a inserção democrática dentro do capitalismo. Hoje, porém, é inevitável incorporar à pauta uma dimensão ampliada que recupere o centro da discussão da produção e da desigualdade e inclua a crise ecológica – é na racionalidade sobre produção e consumo que repousa a sustentabilidade social, vital para a vida na Terra.
Sem essa dimensão, o sistema revela-se um organismo exausto. As enchentes em Valência são um retrato disso: a vasta extensão de terra tomada pelas águas grita uma realidade incontestável – não estamos prontos para os desastres naturais da era da superexploração. E no sul do Brasil, as chuvas caem sem distinguir no território, o recorte de classe. Desaba sobre todos, ainda que os mais ricos encontrem alguma proteção. Mas todos, sem exceção, sentem algum peso da tragédia.
Viver numa sociedade focada em mitigação e inclusão não resolveu o cerne da questão: o próprio modo de produção e reprodução do sistema está desalinhado com a capacidade de equilíbrio do planeta. A intensidade dos efeitos naturais sobre a vida humana exige uma ruptura, uma pausa que permita recomeçar – algo que soa utópico, até mesmo na literatura.
Contudo, é preciso lembrar: as tragédias globais apontam para a urgência de um modelo transformador. Crises são janelas para redesenhar o presente. A justiça climática poderia ser a base de um novo modelo, onde o poder econômico serve à sustentabilidade e à inclusão, rompendo o ciclo de exploração que multiplica as tragédias sociais e ambientais.
A pandemia nos deixou um eco profundo da fragilidade global e demonstrou a imensa necessidade da interdependência entre políticas públicas, saúde e sustentabilidade. O caminho aponta para a busca de sistemas de saúde integrados e políticas que criem uma “saúde planetária”, capaz de prever e mitigar futuras pandemias, reconhecendo o laço estreito entre degradação ambiental e zoonoses. Esse novo olhar sobre a vida – sistêmico, ecológico, preventivo – surge como urgência.
Asimov nos lançou um interessante paradoxo sobre tecnologia: “O fogo é perigoso a princípio, assim como a fala (…) mas os humanos não seriam humanos sem eles.” A tecnologia é parte do que nos define, ao mesmo tempo nos desafia. Em vez de apagá-la, devemos redirecioná-la, fazê-la pulsar por metas coletivas e planetárias, onde “techné” recupere seu sentido grego de habilidade útil, arte, equilibrada com a razão. Assim, não é a inovação tecnológica em si o problema, mas a ética que a rege.
Poderíamos então nos dedicar a outra ciência, uma ciência do ofício, do sensível e do toque ancestral. Em um mundo que se despedaça, recuperar o manejo sustentável da terra e dos biomas é inovador. A justiça ambiental emerge como uma expansão da luta por equidade, elevando o direito à vida para além da humanidade. A superexploração é um elemento a ser reescrito, com a diminuição das práticas extrativistas e a adoção de práticas regenerativas, ainda que isso traga rupturas profundas na organização global atual.
Adoramos a ciência moderna, que nos deu anos a mais de vida. Mas a imortalidade não é um parâmetro humano alcançável. Precisamos, talvez, de uma ciência que valorize a vida enquanto coletividade, que enxergue o humano demasiado humano enquanto um ser múltiplo, que deixe uma história viva após nossa passagem. Reconstruir escalas de valor, sem o romantismo de que a ação individual é o bastante. Um novo pacto passaria primordialmente pela articulação entre indivíduos, instituições e culturas. Formação de redes, encontro entre muitas vozes, ativismos locais, lideranças globais, são muitas as frentes que disseminam o caminho possível.
Há um desejo forte, de parte de lideranças globais, de estruturar uma governança para as grandes crises; mas essa iniciativa precisa das raízes locais, comunitárias. Precisamos atingir a microescala, aprender com a natureza a respiração de seus ciclos. Retomar o encontro do relógio maquínico com o tempo sagrado dos astros.
Alguns mitos e símbolos ancestrais nos ensinam sobre valores sustentáveis. Povos originários, em suas relações simbióticas com o sagrado da natureza, trazem outra ética. Em movimentos de direitos da natureza, como no Equador e Nova Zelândia, rios e florestas têm voz. Esse novo olhar ecológico, ao reintroduzir os mitos no debate ambiental, nos afasta da visão instrumental da natureza. Não falo sobre dogmas, verticalidades de pensamento, mas sobre o saber do sensível, da capacidade de religar-se com o que importa.
A urgência é, então, costurar a rede existente de forma que ela se entrelace com a governança global e local. Dar voz aos modelos de gestão e resistência que permitam decisões políticas concretas, enraizadas na realidade das micro escalas. Redes como o Navdanya, Pachamama.org, Rede Ambiental Indigena, Seed Freedom, Global Forest Coalition, Via Campesina, entre outros, nos permitem conhecer outros mundos possíveis. Mundos capazes de tentar frear o ciclo devastador e realinhar nosso modo de viver com as possibilidades reais do planeta.
Ultimo pedaço de terra livre
No alto dessa colina estamos reunidos sob o céu carregado. Somos camponeses, cientistas, poetas e anciãos de diversas etnias, unidos pelo propósito que nos sobrou. Transformar essa colina em um santuário de resistência e renascimento. Sem certeza de nada, apenas uma missão clara: desacelerar o tempo. Queriam, como quem retém a respiração, reconfigurar a existência.
Sentimos o peso da crise em cada camada da pele, mas ali, no silêncio coletivo, começamos a compreender o real significado do vínculo entre terra e vida. A humanidade, percebe atônita, não poderia sobreviver sem mudar o curso de seus passos.
Ali, plantamos as últimas sementes que nos alimentavam. A “ciência do toque”, técnica ancestral de cultivo e afeto com o ecossistema local. Ao lado do plantador, cientistas traduzem aquele saber em dados, replicáveis e espalháveis para outras comunidades. O que germinou em nós, espalhamos pelo mundo, como um fogo que arde em nome da cura. Será que há outros de nós por aí?
E no murmurar da madrugada que já não ve estrelas, em torno da fogueira debatemos um futuro onde a economia serve à terra e não o oposto. No silêncio da urgência, esta é uma revolução do sensível. Se um dia o futuro existir, começaria exatamente ali, sob o céu em murmúrio e o último solo fértil e livre. Ali respiramos o tempo calmo das sementes.