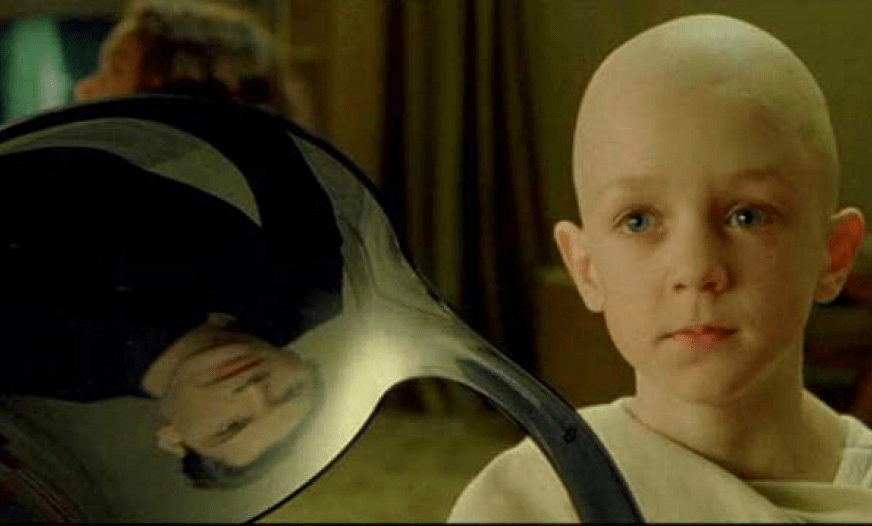Vivemos tempos estranhos. Enquanto as redes sociais gritam, os mercados oscilam e as potências se encaram, parece faltar algo básico na política: a capacidade de ouvir, entender e negociar. A era Trump, com sua retórica agressiva e decisões impulsivas, expõe uma fragilidade maior; a de um mundo que paulatinamente tem perdido seus mecanismos de mediação.
A Europa, nesse cenário, parece ter ficado sem rumo. Diante das pressões americanas e do avanço econômico da China, suas reações foram, muitas vezes, descoordenadas e marcadas por políticas internas que mais enclausuram e desunem do que somam. O economista Yanis Varoufakis aponta isso com lucidez: a Europa está se tornando um apêndice hesitante de um império em declínio. E o pior é que faz isso sem um plano próprio, sem coragem de assumir um papel autônomo na discussão global.
Mas o que significaria, hoje, retomar um projeto coletivo? Talvez não seja tão complexo quanto parece. Não se trata de criar novas alianças para enfrentar inimigos, mas de reinventar os modos de convivência globais. Abandonar tarifas que não servem a ninguém. Investir conjuntamente em tecnologia e sustentabilidade. Fortalecer laços com países que também buscam um lugar mais justo na engrenagem global. E, acima de tudo, recuperar a capacidade da mediação e da negociação. Essa arte, que em tempos de polaridades exacerbadas e guerras, parece tão esquecida, de construir acordos a partir de interesses compartilhados.
Quando diferentes interesses são colocados à mesa, a mediação busca justamente aquilo que, à primeira vista, parece impossível: transformar conflito em oportunidade. Para isso, é preciso mais do que diplomacia formal. É necessário método, é isso que separa a mediação do romantismo. Reconhecer os próprios limites, abrir mão de posições rígidas e aceitar que o outro também tem razões legítimas. Essa é uma arte rara, especialmente em tempos de egos inflados, disputas sangrentas de poder e nacionalismos exacerbados.
Em vez de disputas baseadas em força ou prestígio, os acordos bem-sucedidos tendem a se apoiar em algo mais sutil: o reconhecimento de que há um ganho possível para todos, ainda que não seja o ganho pleno. Parcerias econômicas, intercâmbios tecnológicos, cooperação climática, tudo isso exige uma mudança de postura, em que algum grau de interesse comum se sobreponha à vaidade da disputa distópica da geopolítica. A Europa, por exemplo, poderia negociar diretamente com a China em torno de tecnologias verdes, não como quem desafia os EUA, mas como quem constroi pontes a partir de necessidades mútuas.
Essas negociações não se constroem em conferências relâmpago, mas em processos contínuos de escuta e operação conjunta. Elas exigem paciência, linguagem precisa e disposição para lidar com desacordos sem transformar tudo em guerra. É aí que a mediação se revela mais do que uma técnica: torna-se um modo de estar no mundo. Um modo de afirmar que, apesar das diferenças, ainda podemos e devemos construir futuros compartilhados.
É possível imaginar um mundo menos polarizado, se houver disposição para cooperar em vez de competir o tempo todo. A mediação, quando levada a sério, não é fraqueza: é maturidade política. É reconhecer que ninguém sobrevive sozinho em tempos de transição climática, crise econômica e tensões geopolíticas. Para a Europa, o convite está feito: em vez de seguir reagindo, pode escolher atuar. Não com gritos, mas com inteligência.
Talvez o que esteja em jogo não seja apenas uma disputa entre potências, mas a chance real de redesenhar as bases do sistema. As teorias da complexidade nos mostram que sistemas vivos, inclusive os sociais e econômicos, não operam bem sob controle centralizado e previsões lineares. Eles evoluem a partir da interação de múltiplos agentes, da cooperação descentralizada e de adaptação constante. Nesse sentido, o futuro não precisa repetir os impérios do passado: pode emergir como uma constelação de economias interdependentes, plurais, distribuídas, sem centros fixos, sem moedas únicas que arrastem nações inteiras para ciclos de dependência.
Uma economia global pensada a partir dessa lógica complexa não precisaria se apoiar em um único lastro, como o dólar, nem aceitar como naturais as atuais hierarquias de valor e poder. Poderia, ao contrário, reconhecer a diversidade de soluções locais, fomentar moedas complementares, redes de trocas descentralizadas, circuitos cooperativos de produção e alianças tecnológicas orientadas pelo bem comum. Em vez de mercados auto-regulados à moda antiga, teríamos ecossistemas econômicos interligados por princípios de equidade, sustentabilidade e solidariedade. A mediação, nesse novo mundo, deixa de ser um mero instrumento de conciliação entre velhos blocos, para se tornar um modo de cultivar a inteligência coletiva capaz de sustentar essa ordem viva e interdependente.