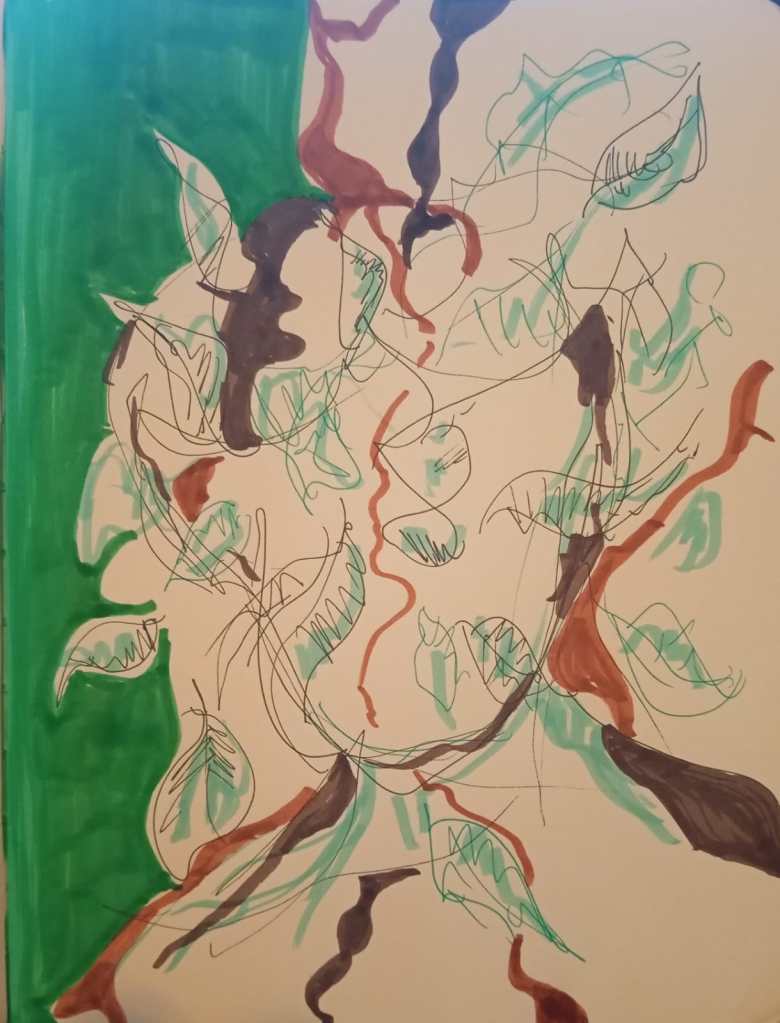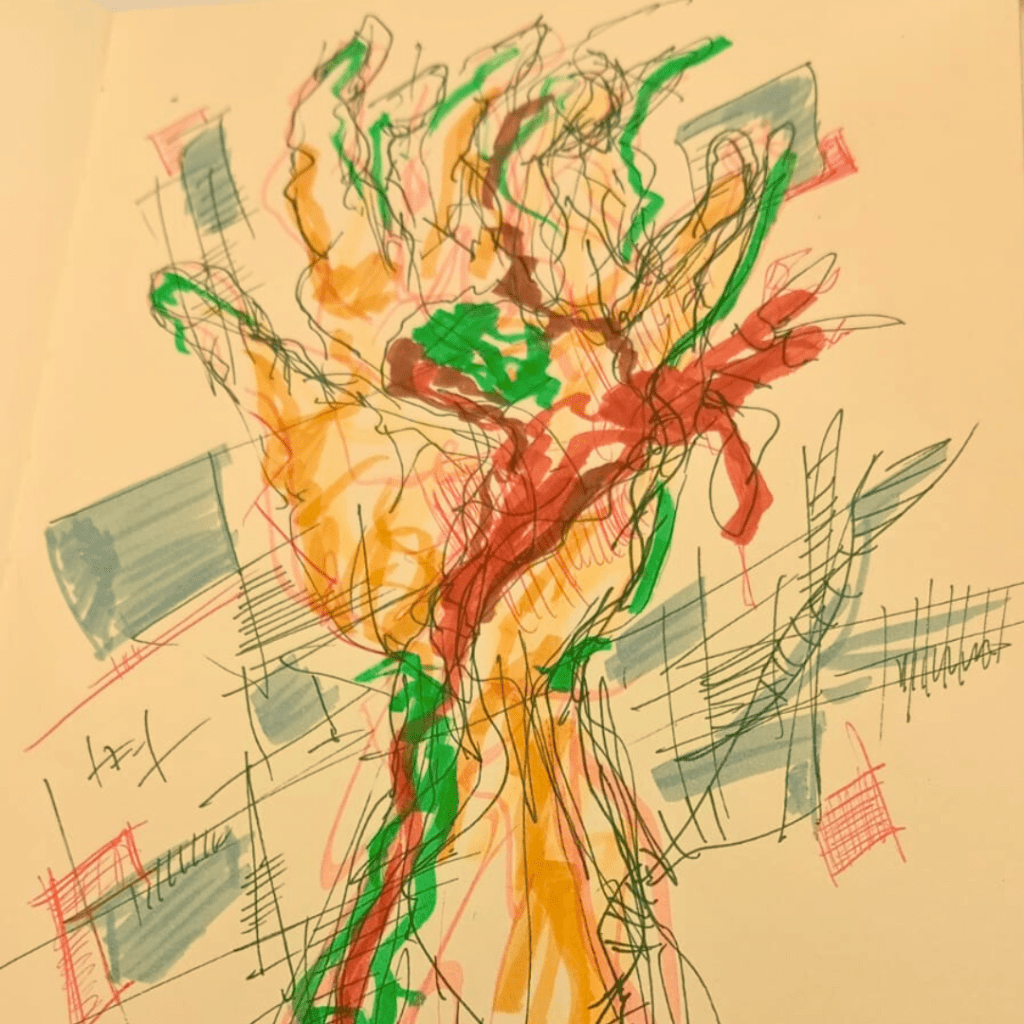A política é um campo das paixões, cujos afetos se constroem, em grande parte, pela linguagem. Seria leviano da minha parte fazer conjecturas definitivas sobre o possível retorno de Trump ao poder. Não falaria em “renascimento”, pois nunca o considerei, digamos, “morto”. O grupo político global ao qual Trump pertence – e é referência – permanece organizado e atuante no sistema contemporâneo. Demonstrando total capacidade de se manter firme em uma rede global.
Embora as redes sociais (muitas vezes taxadas como vilãs) valorizem a polarização e a autorreferência numa busca insólita por reconhecimento individual, não creio que isso explique, por si só, o fracasso do progressismo. Até porque existem redes que não operam nessa lógica, como o Discord, Mastodon, Couchsurfing, Goodreads entre outras. Também considero um exagero atribuir o fenômeno do trumpismo a um conjunto de erros do lado progressista, como se estivéssemos falando de eleições de duas décadas atrás. Prefiro encarar a dura e possível verdade: a pauta de Trump encontra eco nos corações de pessoas muito diversas, em diferentes partes do mundo. Além disso, esses grupos encontraram e aperfeiçoaram as ferramentas de linguagem e comunicação para alcançar esse impacto.
Hoje, em meio a uma mistura de insegurança econômica, mudanças culturais e medo da perda de identidade nacional em um mundo cada vez mais globalizado, abre-se espaço para uma busca desesperada por soluções rápidas e simplistas. É como se quiséssemos frear a Terra para encontrar algum eixo onde possamos ancorá-la.
A retórica de líderes extremistas ou populistas explora o desajuste em relação ao projeto de poder vigente, vendendo esse porto seguro. O modelo de poder articulado em organizações de representação (partidos, instituições, movimentos sociais, raciais, de gênero etc.) parece esbarrar em uma limitação: seu funcionamento exige a criação de uma máscara standard de imagem, capaz de gerar dados para políticas públicas com algum alcance expressivo. Contudo, a padronização, em uma sociedade tão complexa como a nossa, torna-se inviável atualmente. As ações afirmativas, por exemplo, atingem um teto estrutural: jovens cotistas, formados, que não encontram empregos dignos e precisam se lançar no empreendedorismo de sobrevivência, acabam esbarrando nos mitos do “self-made man”, encontrando ali algum tipo de referência para suas vidas.
Diante de um progressismo que não garante a completude da segurança psicológica e encontra limitações, o trumpismo, putinismo assim como o bolsonarismo no Brasil, trazem uma receita fácil para tempos de medo. Sugerem um inimigo comum – mesmo que mal definido –, seguido de um desejo coletivo: unir a nação, sermos “um só povo”, buscar a “grandeza”. Esse desejo, porém, carece de consistência prática, e aí paramos, pois não há soluções, apenas a retórica e a guerra para manter o inimigo comum vivaz nos corações apaixonados por um líder caricato.
Sugiro aqui, o retorno à linguagem como tema. “Palavras têm poder”, já dizia o profeta… ou talvez tenha sido minha avó, durante a infância. Uma das grandes viradas de chave em 68 foi a percepção das mudanças sociais: onde estavam os desencaixados no mundo polarizado pela guerra fria? Os desajustados? Essa discussão, sei, já está batida, porém ainda não solucionada. Somada a ela reside minha nova preocupação: os avanços da inteligência artificial podem concentrar ainda mais o poder político e econômico nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ou corporações que controlam os dados e a tecnologia.
O paradigma da IA traz uma transformação radical na forma de acumulação de poder e exploração do capital, em contraste com o modelo de produção industrial. Antes, o capital dependia diretamente da força de trabalho humano; agora, a IA reduz essa dependência ao automatizar tarefas e dispensar a intervenção humana em diversas etapas produtivas. Grandes corporações e governos acumulam esses recursos, monopolizando os meios de produção e elevando a concentração de riqueza a níveis jamais vistos.
Essa mudança aprofunda o controle social e psicológico, com algoritmos que monitoram e manipulam preferências, criando uma nova “mais-valia comportamental”. A IA explora desejos e comportamentos de consumo, ampliando o lucro de forma indireta ao influenciar escolhas e subjetividades. O mercado de trabalho também sofre um impacto estrutural: o desemprego cresce com a substituição de trabalhadores por automação, e os empregos restantes tendem a ser mais precarizados, sem os direitos e o poder de organização típicos da era industrial. E a sobrevivência, o empreendedorismo real, torna-se a fusão completa de vida-trabalho-consumo, onde o made-yourself é a auto exploração e objetificação de si mesmo. Resta a humanidade que vive da sua força de trabalho, se auto vender enquanto objeto, retroalimentando as grandes plataformas que geram lucro. Seu novo trabalho nesta indústria é ser o próprio produto final vendido por ela.
Resistir às práticas exploratórias torna-se cada vez mais difícil.
Com a dissociação entre valor e trabalho, o paradigma da IA rompe o ciclo de reprodução do capital como o entendemos. A acumulação de riqueza continua sem a necessidade de redistribuir valor por meio de salários, uma vez que o capital pode ser reproduzido por máquinas e algoritmos. O capital, assim, torna-se menos dependente do trabalho humano, o que amplia as desigualdades e centraliza ainda mais o poder sobre a vida social e política. A IA impõe um desequilíbrio profundo ao sistema capitalista, redefinindo as bases da exploração e o papel da força de trabalho na sociedade.
Estamos diante de uma luta algorítmica que passa pela linguagem. Não é sensato pensar que a interface da IA ou das redes sociais seja um mero processo de manipulação; acredito que o maior desafio é perceber que elas criam camadas de existência relacional. Interfaces, mundos dentro de mundos. São novos territórios que se sobrepõem e se aproveitam do fato de que o espaço virtual, diferente do real, é infinitamente expansível em dimensões possíveis.
Hoje, as redes sociais permitem que os desencontrados e descontentes encontrem seus pares para dialogar e se organizar. Um jovem imigrante palestino, por exemplo, que não se sente representado pelas políticas de guerra do partido democrata, pode buscar apoio online. Mesmo que esse partido financie a guerra de Israel, ele acaba escolhendo Trump – alguém que, ironicamente, poderia deportá-lo para o centro do conflito, sem frear as ações israelenses. No entanto, em um futuro próximo, a IA poderá ir além: ela será capaz de criar personas virtuais que simulam uma presença real nesses debates.
Conclusão
Diante de um mundo repleto de inseguranças de futuro, surge um processo extremamente concentrador. A evolução de uma mais-valia comportamental, que já era prenunciada pela turma de maio de 68, capturada pelas redes algorítmicas trazem à tona um controle constante e sutil sobre a exploração da vida. Ampliando o controle psicológico por meio de tecnologias cada vez mais intrusivas.
A ameaça iminente é de um aumento das desigualdades estruturais e da concentração de poder nas mãos de corporações e elites políticas, tendo a IA como ocorrência desse processo. Ao redefinir as bases do trabalho e da acumulação, estamos testemunhando um desequilíbrio que pode alterar de forma irreversível a sociedade, reforçando uma natureza paradoxal do progresso tecnológico.
Precisamos retomar a linguagem como pauta e construir a premissa ética sobre a automatização do mundo e o controle algorítmico, enquanto os avanços estão acontecendo. Este novo controle da linguagem nos permitirá organizar minimamente um futuro de segurança no tecido social e econômico da Terra.
Nestas semanas onde o Rio prepara-se para receber o G20 cabe a nós ter este tipo de debate na pauta. A democratização do kernel, a abertura dos códigos e a disputa urgente do direito a esta nova linguagem.