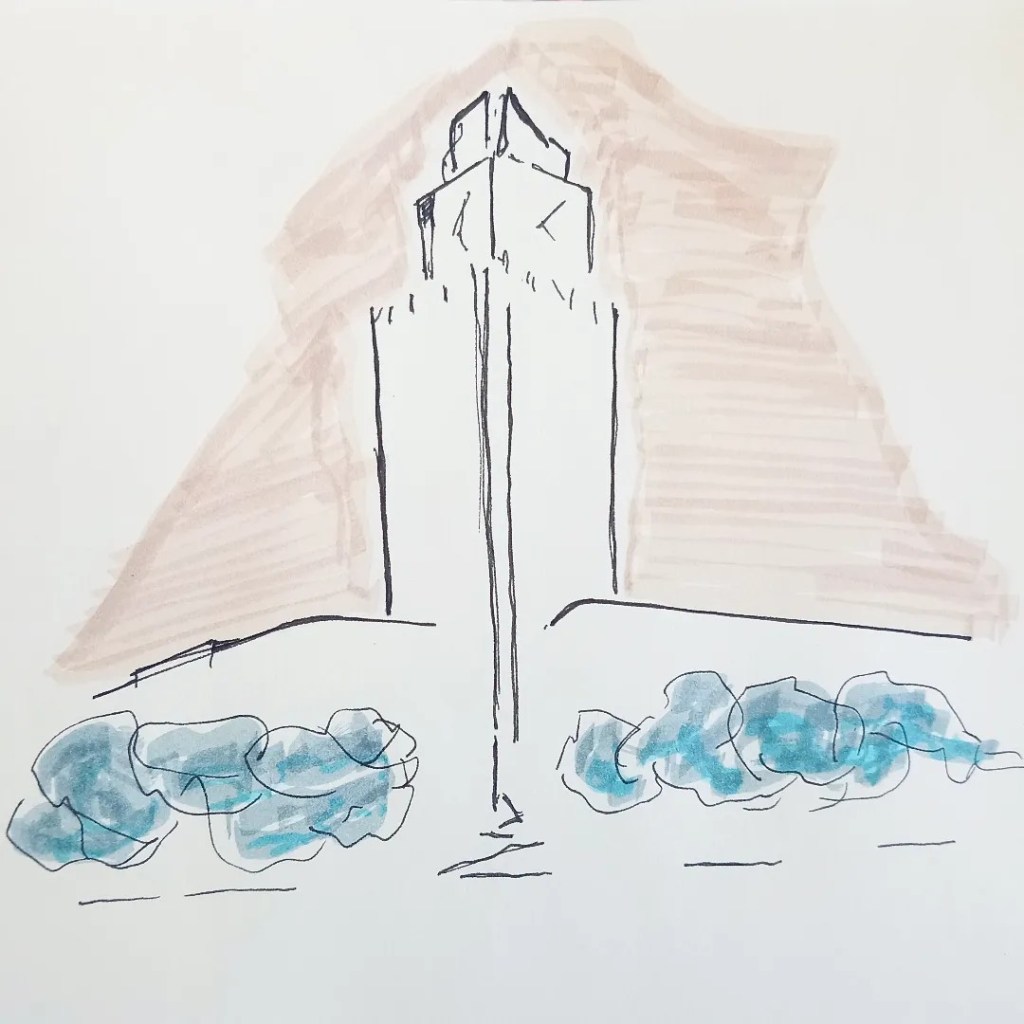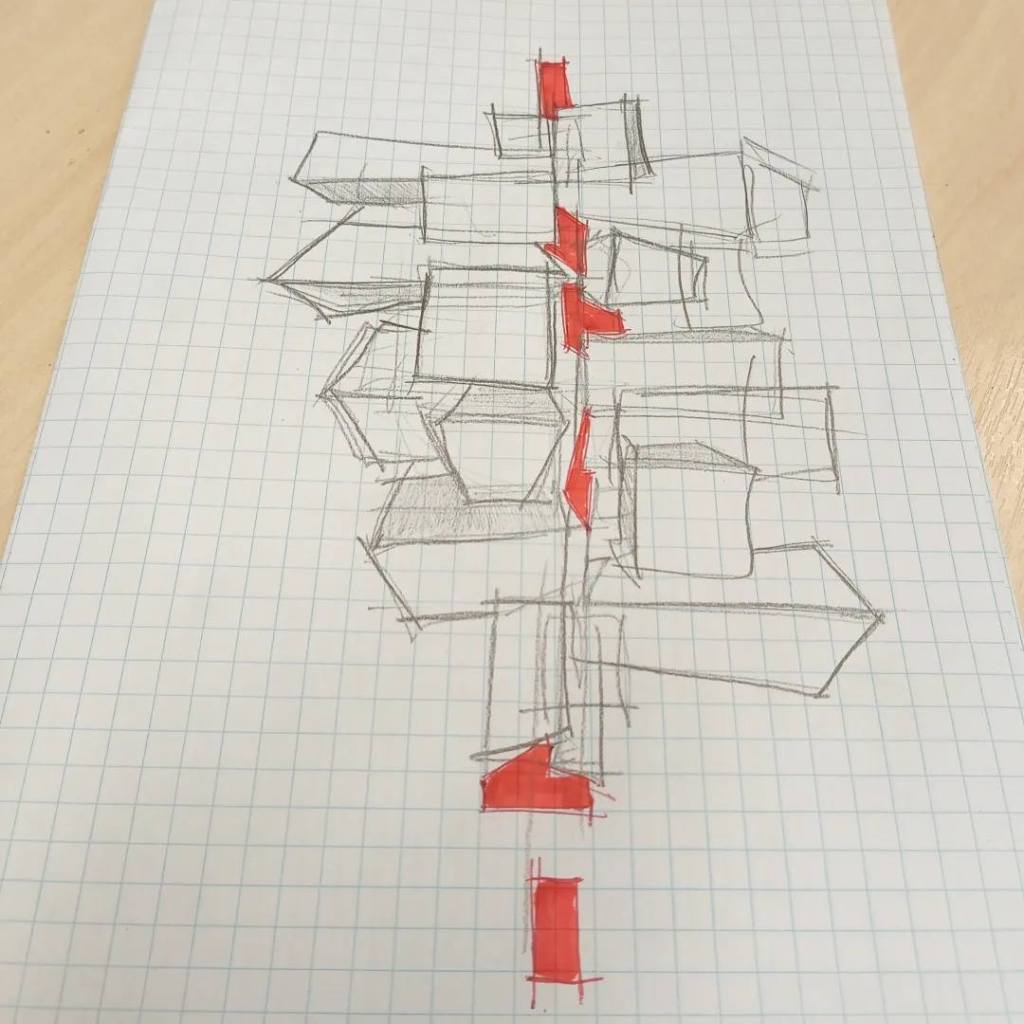De onde surgiu Rick Azevedo? Essa pergunta tem ecoado entre certa parte dos pensadores da esquerda carioca. Confesso que também conheço pouco sobre ele, mas já o considero um nome promissor. A expressiva votação que o candidato do PSOL alcançou nos diz muito sobre a invisibilidade do trabalhador pobre diante do sistema político brasileiro.
Há dois pontos essenciais que gostaria de destacar. Primeiro, Rick foi direto e incisivo em uma análise crucial: diante da precarização, não basta resiliência; é preciso disputar espaço. Esse é o recado do “6×1”, um sinal de uma luta popular real. Engana-se quem pensa que essa pauta é restrita a celetistas ou trabalhadores com contrato formal; ela representa todos aqueles que, frente à precarização de suas vidas, precisam estar disponíveis para o mercado, 24 horas por dia, sete dias por semana, para sobreviver.
O que quero dizer com empregabilidade? Quando falo em “empregabilidade”, refiro-me não apenas à exigência de estar sempre “pronto para uso” no mercado, sempre competitivo e adaptado às transformações econômicas, tecnológicas e sociais. É a pressão para ser “empregável” em qualquer situação, diferentemente de um emprego, que é uma ocupação formal e estável. Empregabilidade abrange o trabalho informal, o bico, o subemprego, e principalmente o desemprego, todos os sistemas onde o trabalhador vende sua força na esperança de um retorno que talvez nunca venha.
Assim, a jornada “6×1” vai muito além de um acordo para celetistas. É a rotina dos entregadores, motoristas de Uber, microempreendedores (MEIs) e todo tipo de trabalhador que não consegue, em 40 horas semanais, garantir o básico para viver. Enquanto a Europa experimenta e disputa jornadas reduzidas, como o modelo “4×3”, que permite mais equilíbrio entre trabalho e vida, o Brasil segue pelo caminho oposto, abraçando uma lógica de exploração que mantém a mão de obra barata e a pobreza crônica, favorecendo a hiperexploração. E essa realidade só se aplica à gigantesca massa de pobres, sem heranças ou privilégios, cujas vidas são devoradas por um mercado que exige sempre mais e oferece cada vez menos.
O segundo ponto essencial é a coerência das ações de Rick. Ele é o “desconhecido mais conhecido” que já vi, e sua trajetória expõe a crise de desconexão da esquerda carioca – e talvez nacional. Seu impacto eleitoral não se limita aos corredores da esquerda. Rick caminhou por onde muitos formuladores e líderes da esquerda já não passam: as filas de trens, os pontos de ônibus, as ruas da Baixada Fluminense, os subúrbios, o duro solo do trabalhador carioca e fluminense. Ele foi ao encontro do trabalhador, do desempregado, do pobre, aquele que ele efetivamente busca representar.
Rick faz uma crítica necessária e contundente ao sistema sindical, num momento em que o próprio governo federal, que deveria carregar as bandeiras do trabalhismo e sindicalismo, se curva diante da correlação desfavorável de forças e tem de negociar com um parlamento que empurra os trabalhadores para novas formas de exploração. E, ironicamente, é o mesmo governo que, ao optar por um ajuste fiscal, ameaça o Sistema Único de Saúde (SUS) em um contexto onde até a saúde privada se torna precária para o trabalhador médio.
Rick Azevedo se apresenta como uma força emergente, uma representação autêntica da luta contemporânea pelo trabalho no contexto carioca. Ele pode simbolizar uma esperança para a reconstrução do pensamento trabalhista e sindical e para o próprio PSOL. Que o ímpeto de suas pautas permaneça forte em sua atuação como parlamentar, este será seu novo desafio, manter-se firme às pautas que o levaram ao cargo no legislativo. Ver essa chama acesa no PSOL é inspirador. Essa bolha furada prova que ainda é possível lutar de verdade, basta ter coragem.