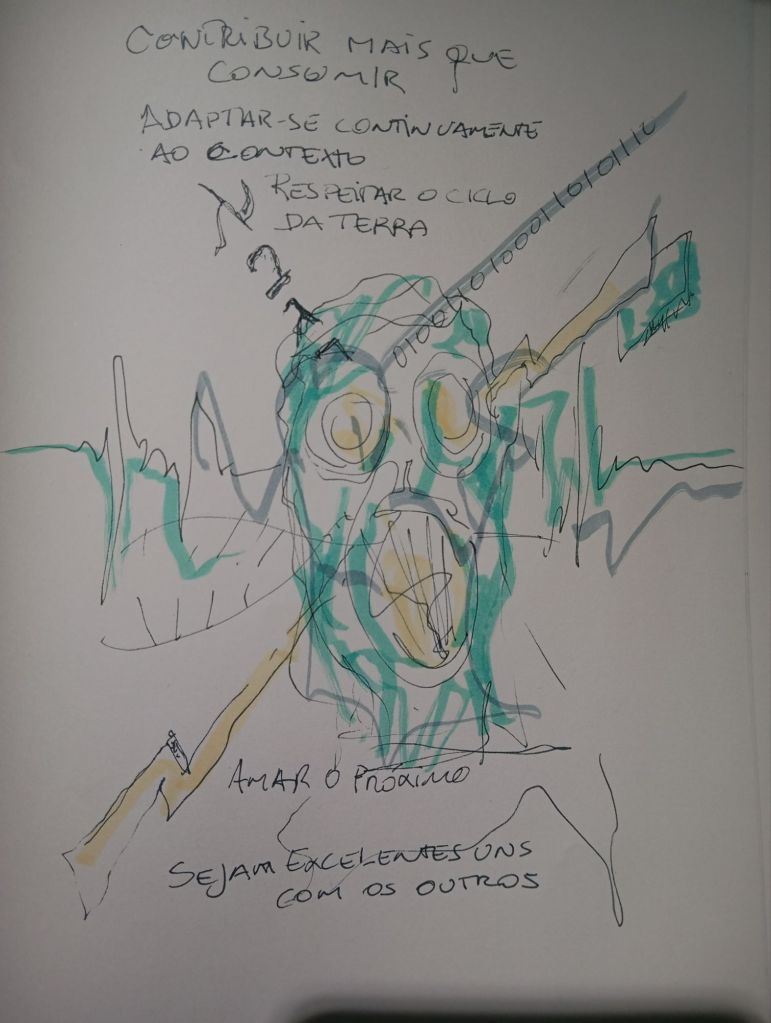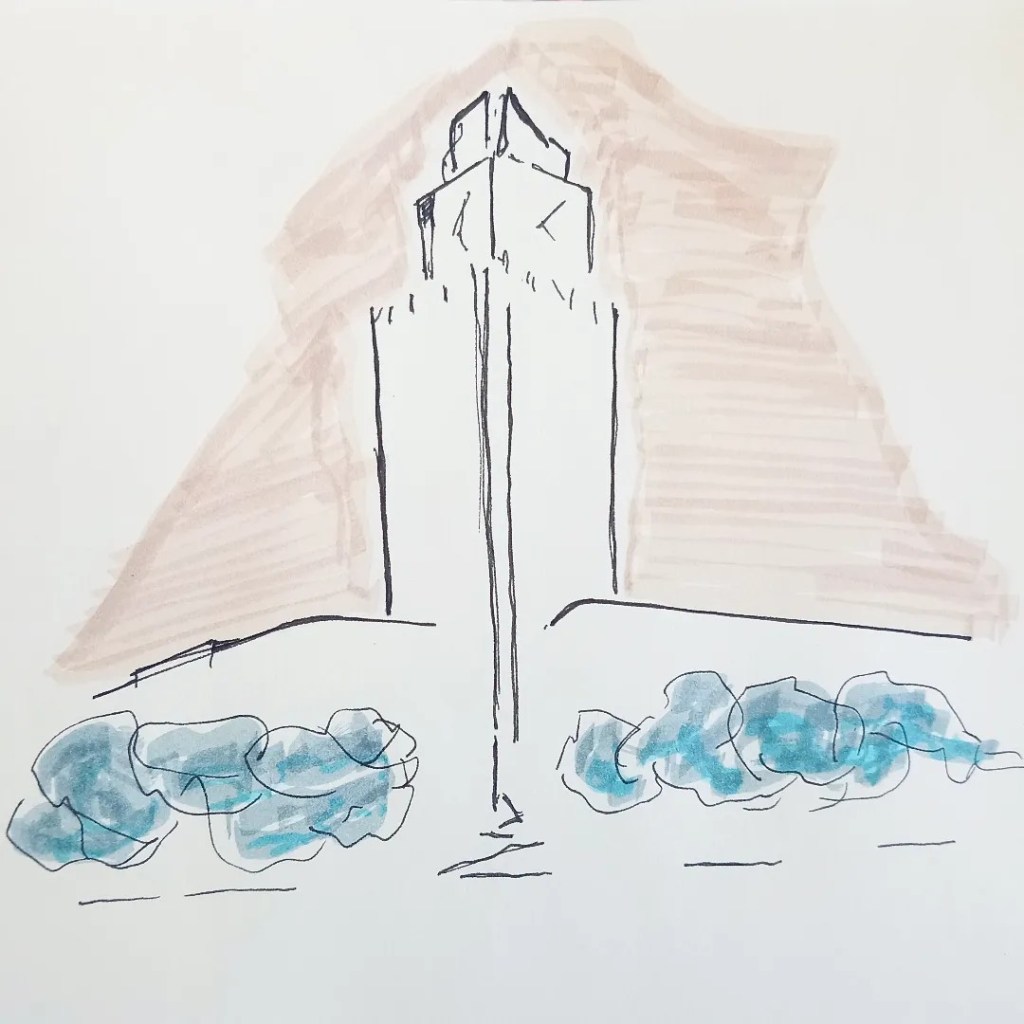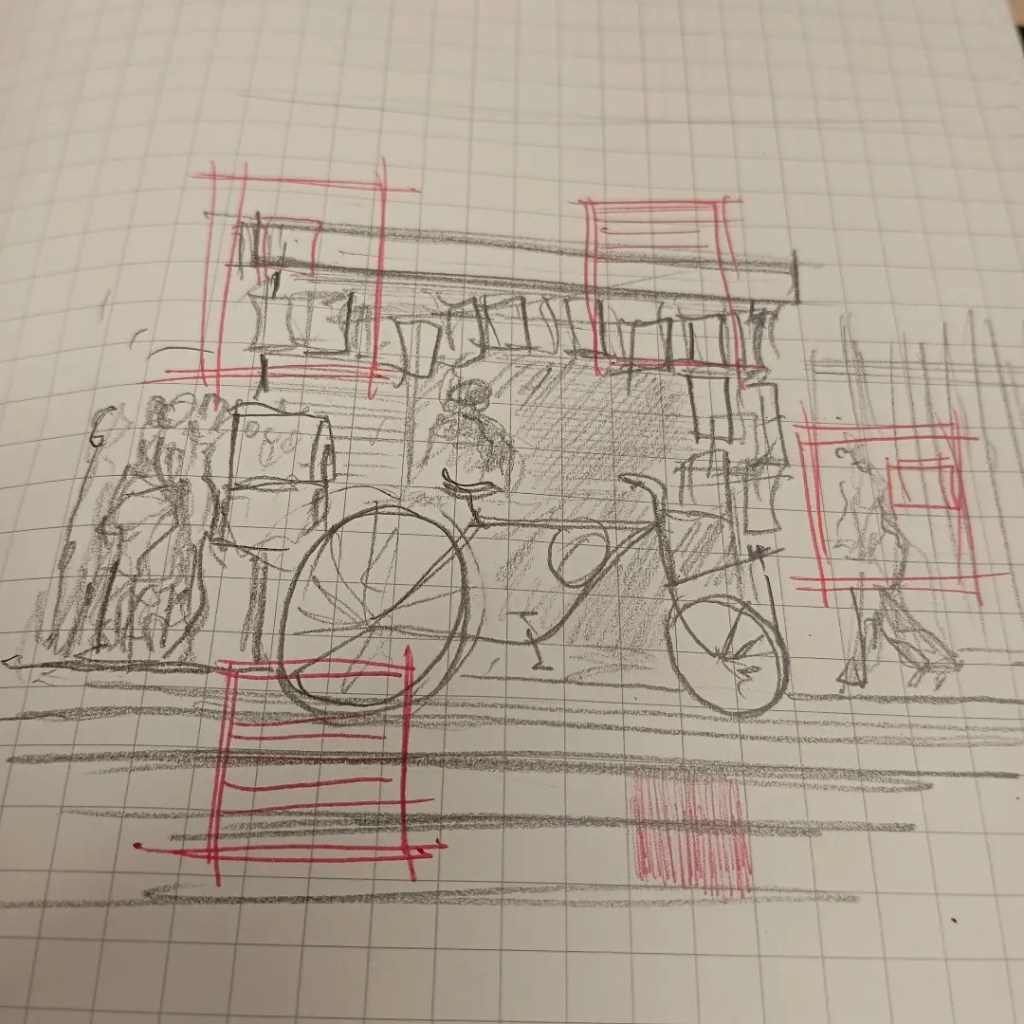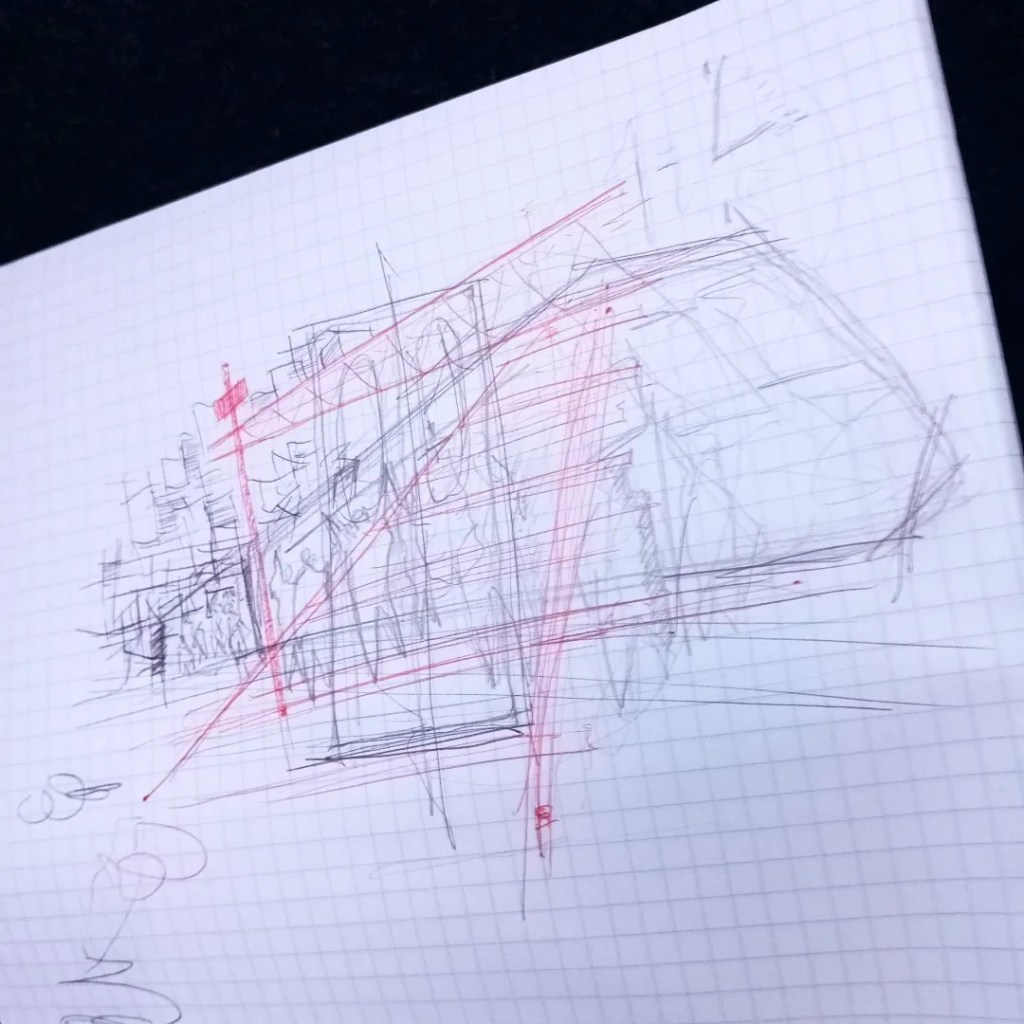Dando sequência ao texto anterior, sigo explorando temas que não inseri naquele, mas que refleti a partir da literatura de Asimov (somado às outras coisas que li na vida).
Podemos definir algoritmo como uma sequência finita de instruções claras, quando seguidas, levam à solução de um problema ou ao alcance de uma meta. A partir dessa ideia, gostaria de explorar o conceito para além de sua conotação técnica e matemática. Pensando no algoritmo como um paradigma global, podemos agenciá-lo como um processo estruturado, onde as condições iniciais geram resultados previsíveis a partir de alguns passos lógicos.
Podemos, então, falar em “algoritmos sociais”?
Esse é o ponto central deste texto. Vale lembrar que este é um texto reflexivo, e não uma pesquisa científica formal. Com isso, dou-me a liberdade de explorar ideias originais, sem a necessidade de rigor científico, ainda que seja uma tentativa de produzir conhecimento, e dou-me também o direito de estar equivocado. Voltemos, então, às elucubrações.
Uma “organização algorítmica” da vida implicaria na existência de regras e padrões que regem o comportamento coletivo e individual em uma sociedade. Pensando assim, convenções sociais, normas culturais e até sistemas econômicos podem ser vistos como algoritmos sociais, pois seguem preceitos que moldam as interações humanas.
As redes sociais são um exemplo contemporâneo de como os algoritmos impactam a sociedade. Eles filtram, priorizam e promovem informações, influenciando comportamentos e opiniões. Surge, então, uma crise: estamos sendo controlados pelas corporações que detêm os algoritmos?
Expandindo essa reflexão, podemos dizer que qualquer contexto social com processos estruturados de interação ou decisão opera dentro de “algoritmos sociais”. Eles podem ser explícitos, como regras de conduta, ou implícitos, como preconceitos culturais que orientam decisões.
Legislações, por exemplo, podem ser vistas como uma forma de algoritmo social, pois estabelecem regras formais que orientam as ações das pessoas. Assim como um algoritmo processa informações de maneira determinística, as leis processam entradas legais e produzem saídas específicas, como sanções ou recompensas. O novo aqui não está apenas em controlar o ambiente, mas nos corpos e nas disputas que se dão dentro desse ambiente.
No caso dos algoritmos digitais, seu impacto é evidente na circulação da informação, influenciando decisões políticas e de consumo. Eles intensificam a desterritorialização e criam rupturas nos contratos sociais e democráticos.
Diante disso, surge a questão da neutralidade desses sistemas. Assim como os algoritmos digitais carregam intenções e vieses, as leis são escritas por pessoas com poder político e econômico, refletindo interesses e desigualdades. A velha máxima prevalece: quem controla a escrita, detém o poder.
Mas, se não sabemos quais regras nos guiam, como saber para onde estamos sendo levados? Aqui surge um equívoco comum: assumir uma regra: o controlador é inimigo e negar o sistema por completo. Fechar o mundo iniciado por Alan Turing é impossível, uma luta quixotesca. A disputa concreta creio que está no direito à escrita, no poder de sermos os autores de nossas próprias leis.
Assim, o discurso das redes abertas precisa ser retomado. Devemos trilhar dois caminhos: a curto prazo, compreender os algoritmos que nos cercam; a médio prazo, garantir o direito de escrever nossos próprios algoritmos.
No conto Andando em Círculos, de Asimov, o personagem principal, diante de um movimento robótico que parecia um bug, precisa fazer uma operação inteligente. Ele para, lembra das três leis da robótica, investiga o fato estranho e a partir do debruçar intelectual encontra uma saída original para si. O conto não mostra que, ainda que um algoritmo tenha sido produzido pra dar um resultado enviesado, ele possui linhas de fuga diante da investigação profunda e original.
O filme Bill e Ted é outro que explora de maneira divertida o poder do algoritmo. Bastou uma regra resumida em uma frase adolescente, e o futuro encontraria a paz mundial: “Sejam excelentes uns com os outros”.
A disputa urbana de uma smart city passa por aí, disputarmos o sistema lógico de gerenciamento automatizado da cidade, sem negá-lo como algo útil. O que precisamos é fazer parte de quem governa a produção das regras, ou ao menos ter as regras escritas de forma aberta para que possamos investigar os processos.
Estudar os algoritmos, tanto em seu sentido técnico quanto social, nos ajuda a entender como sistemas de regras influenciam a dinâmica social, muitas vezes de maneira invisível ou intencionalmente projetada. Também nos aprimoramos para construir os novos sistemas de interação política e social que virão a estruturar o mundo. O grande barato é vermos que algoritmo não é algo novo, hermético e complexo. O que não faz torna-lo um vilão, é que estamos excluídos do direito de comunicação, que por sua vez dificulta um direito de ação.