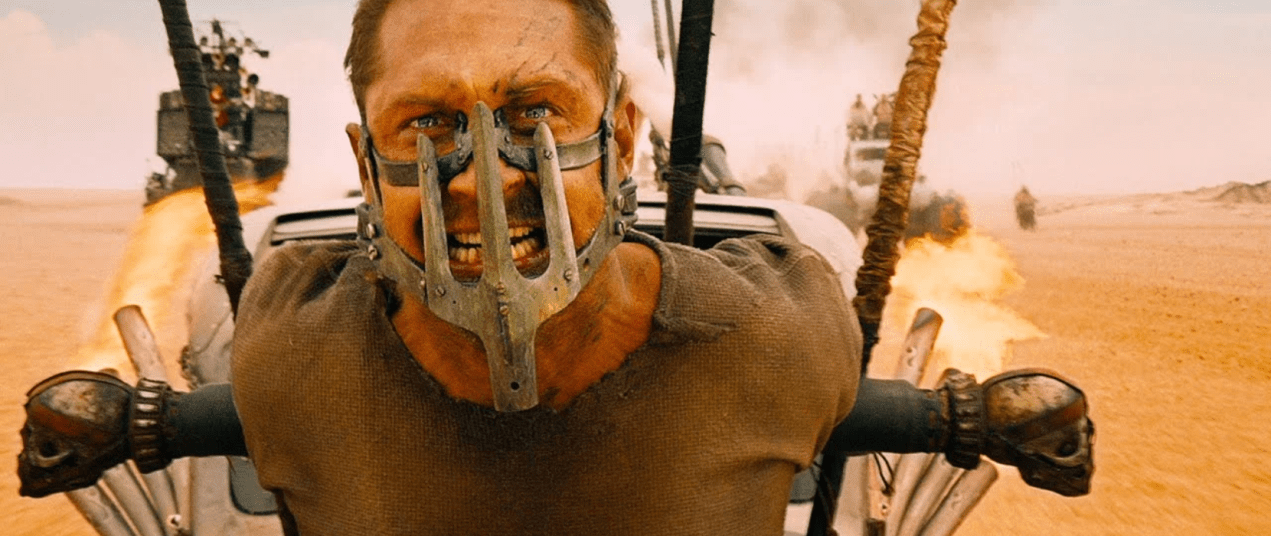Falemos um pouco sobre os conceitos de estatal, público, privado e comum. Muitas vezes soam embaralhados no debate político e no circuito popular. É muito corriqueiro pensarmos o sistema estatal e o sistema público por exemplo como a mesma coisa, coisa de governo. Esse tipo de confusão acaba por esconder disputas de poder e visões diferentes, principalmente, sobre quem deve gerir o que é de todos e como deve ser gerido.
Estatal é tudo aquilo que pertence diretamente ao Estado. São bens e instituições geridas pelo poder público, com autoridade centralizada. Público, em sentido mais amplo, é aquilo que existe para uso e benefício de todos, independentemente de ser estatal ou não. Aqui está um sombreamento corriqueiro. Muitas vezes entendemos um bem estatal como um bem público. Ainda que seu produto final seja deste caráter específico, sua gestão não necessariamente é. Decisões de gestão da Petrobrás, por exemplo, não precisam de audiência pública aberta a todos os cidadãos brasileiros para acontecer.
O privado por sua vez, é mais simples de entender: aquilo que é de propriedade de indivíduos ou empresas, voltado para interesses particulares, ainda que sob regulação pública. É no campo privado que florescem a autonomia, o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, as desigualdades.
Além destes, vou retomar aqui o conceito de comum, trazido por Antonio Negri. O comum não seria nem estatal, nem público nos moldes tradicionais. Sua principal distinção está no fato de que ele emerge da própria colaboração social. Ele é um modo de organização mais horizontalizado por natureza. Conhecimentos compartilhados, redes de solidariedade, práticas coletivas que não dependem do Estado nem de interesses privados. O comum é um espaço de invenção social e resistência.
Há um modelo que deva ser hegemônico? A meu ver não, cada modelo responde a um conjunto específico de necessidades sociais e pode ser operado de forma estratégica a partir da complexidade. Talvez o maior erro da gestão global, desde a revolução industrial, tenha sido a tentativa de impor um modelo hegemônico e referência paradigmática.
Simplificando: nem a estatização de todo o sistema econômico, como pregado por algumas tradições políticas de esquerda e nem o enxugamento ou fim da máquina estatal como pregado por inúmeros discursos neoliberais e capitalistas, resolverão o sistema. No meu modo de pensar: Há bens, instituições e serviços que precisam de uma gestão pública, há os que precisam de uma gestão estatal, há os que funcionam melhor no sistema privado e ainda há aqueles que funcionam muito melhor na organização pelo comum.
As confusões realmente começam quando os limites entre esses conceitos se tornam turvos. Uma escola pública, estatal em estrutura, deveria servir ao interesse público, mas quantas vezes vemos interesses privados infiltrados em sua gestão? Quantas vezes o Estado administra mal o que é público, esvaziando o sentido coletivo do bem? Ao mesmo tempo, quantas vezes uma corporação privada se utiliza de recurso e privilégio público e estatal para conseguir lucro ou benefícios?
Fora outros espectros de sombreamento. Organizações sociais que prestam serviços de saúde com verbas públicas, mas operam com gestão privada; empresas estatais que agem como corporação privada no mercado internacional; espaços públicos privatizados sob concessão. O mercado tenta se apropriar dos privilégios e benefícios do que é público; o Estado tenta governar o que poderia ser comum; o comum se perde sendo cooptado pelo Estado ou pelo mercado.
Entender essas distinções é um ato político. Saber onde termina o interesse público e começa o interesse privado é fundamental para defender direitos, garantir justiça social e reinventar novas formas de vida. Um bom desafio para o nosso tempo seria justamente este: resgatar o comum como um campo vivo de liberdade coletiva e reorganizar o projeto de nação espacializando melhor o que deve ser gerido de forma estatal, de forma pública, de forma comum e o que pode ser mercado.